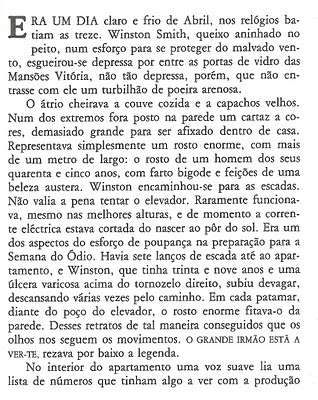Porque é que os Ciganos estão espalhados pelo mundo
Rússia
Encontrei esta versão de um conto explicativo recorrente – os outros relatos tratam normalmente da guerra – numa colectânea de contos populares ciganos russos publicada na Escócia, em 1986. Os organizadores foram Yefim Druts, filho de um rabino de Moscovo, e o poeta Alexei Gessler.
Isto passou-se há muito tempo.
Um cigano e a sua família andavam em viagem. O seu cavalo estava pele e osso e pouco firme nas pernas e à medida que a família cigana ia aumentando era-lhe cada vez mais difícil puxar a pesada carroça. Em breve a carroça ficou tão cheia de crianças aos trambolhões que o pobre cavalo mal conseguia arrastar-se pelo caminho às covas.
A carroça lá ia aos tombos, ora tombando para a esquerda, ora para a direita, tachos e panelas a cair, e uma vez por outra uma criança descalça era atirada ao chão de cabeça.
Não era tão mau à luz do dia, pois podiam ir apanhar as panelas e as criancinhas; mas no escuro não se viam. Aliás, quem é que era capaz de fazer as contas a uma tribo daquelas? E o cavalo lá seguia penosamente.
O cigano deu a volta à terra e onde quer que fosse deixava ficar um filho: mais um, e mais um, e mais um.
E foi assim, estão a ver?, que os Ciganos se espalharam pela Terra.
(pp. 55-6)
A noiva e a gema de ovo
Estados Unidos
Carol Miller, escritora e antropóloga, a quem contaram esta história nos anos sessenta, comenta: «Entre os Rom americanos, um casamento é uma festa, ruidosa e animada com música e danças, bolos, whiskey e mesas de comida. A estrela da festa é a noiva e, tal como na história, muitas vezes está demasiado nervosa para comer. Chega num vestido de baile vermelho e é vestida pela sogra e cunhadas, desta vez de branco e ouro de vinte e quatro quilates. É ponto de orgulho para a família do noivo cobrir-lhe o peito de moedas de ouro, correntes, jóias da melhor qualidade, ouros de família, ouro com significado para a história da família… Assim ataviada, dançam com ela os seus parentes homens e depois as mulheres suas parentes, com os convidados a comandar, a bater um ritmo insistente que pouco atende à música. Por tradição, o casamento há-de durar três dias, três festas, e quase todos os acontecimentos rituais têm a noiva no seu centro.»
Note-se os ladrões gadjé [não-ciganos] introduzidos, pois costumam ser os ciganos a desempenhar este papel.
Isto passou-se antigamente. Uma rapariga estava muito nervosa no seu casamento. Não comia: tinha coisas a mais para fazer. Foi um grande casamento, com muita gente, uma grande festa que durou pela noite dentro. Já era tarde e ela descascou um ovo, comeu a clara e meteu a gema na boca. Estava tão nervosa que se esqueceu de mastigar e a gema entalou-se-lhe na garganta e ela morreu. Por isso, em vez de um casamento as pessoas foram a um funeral.
Na noite seguinte dois gadjés que a tinham visto toda bem vestida para o casamento, cheia de correntes de ouro e de moedas de ouro, foram roubá-la. Abriram o caixão. Um deles pousou o pé no peito dela para tirar os colares e a gema saltou para fora. Recuperando o fôlego, ela tossiu e disse:
– Que estou eu a fazer aqui?
Pôs os gadjés a fugir de susto. Não apanharam o ouro.
Depois ela foi para o acampamento e encontrou a sua gente. Ficaram assustados porque sabiam que ela tinha morrido. Então ela disse:
– Não sou nenhum fantasma. Estou viva.
E viveu mais quarenta anos.
Esta história é verdadeira.
(pp. 74-6)
Diane Tong (1998). Contos Populares Ciganos. (Telma Costa, Trad.).
Lisboa: Teorema. (publicado pela primeira vez em 1989)