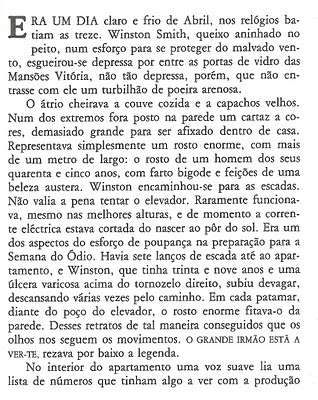|
| Ricardo Araújo Pereira. «Contra o corte cego da consoante muda». Visão. 14 de Setembro de 2011. p. 114. |
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
Ricardo Araújo Pereira, «Contra o corte cego da consoante muda»
terça-feira, 29 de novembro de 2011
Henrik Lange, Excerto de "90 Livros Clássicos para Pessoas com Pressa"
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Roddy Doyle, Excerto de "the woman who walked into doors"
Ask me. Ask me. Ask me.
Here goes.
Broken nose. Loose teeth. Cracked ribs. Broken finger. Black eyes. I don’t know how many; I once had two at the same time, one fading, the other new. Shoulders, elbows, knees, wrists. Stitches in my mouth. Stitches on my chin. A ruptured eardrum. Burns. Cigarettes on my arms and legs. Thumped me, kicked me, pushed me, burned me. He butted me with his head. He held me still and butted me; I couldn’t believe it. He dragged me around the house by my clothes and by my hair. He kicked me up and he kicked me down the stairs. Bruised me, scalded me, threatened me. For seventeen years. Hit me, thumped me, raped me. Seventeen years. He threw me into the garden. He threw me out of the attic. Fists, boots, knee, head. Bread, knife, saucepan, brush. He tore out clumps of my hair. Cigarettes, lighter, ashtray. He set fire to my clothes. He locked me out and he locked me in. He hurt me and hurt me and hurt me. He killed parts of me. He killed most of me. He killed all of me. Bruised, burnt and broken. Bewitched, bothered and bewildered. Seventeen years of it. He never gave up. Months went by and nothing happened, but it was always there – the promise of it.
Leave me alone!
Don’t hit my mammy!
I promise!
I promise!
I promise!
For seventeen years. There wasn’t one minute when I wasn’t afraid, when I wasn’t waiting. Waiting for him to go, waiting for him to come. Waiting for the fist, waiting for the smile. I was brainwashed and brain-dead, a zombie for hours, afraid to think, afraid to stop, completely alone. I sat at home and waited. I mopped up my own blood. I lost all my friends, and most of my teeth. He gave me a choice, left or right; I chose left and he broke the little finger on my left hand. Because I scorched one of his shirts. Because his egg was too hard. Because the toilet seat was wet. Because because because. He demolished me. He destroyed me. And I never stopped loving him. I adored him when he stopped. I was grateful, so grateful, I’d have done anything for him. I loved him. And he loved me.
I promise!
I promise!
Don’t hit my mammy!
(…)
Roddy Doyle (1998). the woman who walked into doors.
London: Vintage. pp. 175-177.
Amnesty International page on Gender Violence: http://www.amnesty.org/en/
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
José Gomes Ferreira, "Acordai"
Acordai
acordai
homens que dormis
a embalar a dor
dos silêncios vis
vinde no clamor
das almas viris
arrancar a flor
que dorme na raiz
Acordai
acordai
raios e tufões
que dormis no ar
e nas multidões
vinde incendiar
de astros e canções
as pedras e o mar
o mundo e os corações
Acordai
acendei
de almas e de sóis
este mar sem cais
nem luz de faróis
e acordai depois
das lutas finais
os nossos heróis
que dormem nos covais
Acordai!
acordai
homens que dormis
a embalar a dor
dos silêncios vis
vinde no clamor
das almas viris
arrancar a flor
que dorme na raiz
Acordai
acordai
raios e tufões
que dormis no ar
e nas multidões
vinde incendiar
de astros e canções
as pedras e o mar
o mundo e os corações
Acordai
acendei
de almas e de sóis
este mar sem cais
nem luz de faróis
e acordai depois
das lutas finais
os nossos heróis
que dormem nos covais
Acordai!
José Gomes Ferreira, "Acordai"
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
José de Almada Negreiros, Excerto de "Manifesto anti-Dantas"
Basta pum basta!!!
Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio d'indigentes, d'indignos e de cegos! É uma resma de charlatães e de vendidos, e só pode parir abaixo de zero!
Abaixo a geração!
Morra o Dantas, morra! Pim!
Uma geração com um Dantas a cavalo é um burro impotente!
Uma geração com um Dantas ao leme é uma canoa em seco!
O Dantas é um cigano!
O Dantas é meio cigano!
O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias pra cardeais, saberá tudo menos escrever que é a única coisa que ele faz!
O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas!
O Dantas é um habilidoso!
O Dantas veste-se mal!
O Dantas usa ceroulas de malha!
O Dantas especula e inocula os concubinos!
O Dantas é Dantas!
O Dantas é Júlio!
Morra o Dantas, morra! Pim!
O Dantas fez uma soror Mariana que tanto o podia ser como a soror Inês ou a Inês de Castro, ou a Leonor Teles, ou o Mestre d'Avis, ou a Dona Constança, ou a Nau Catrineta, ou a Maria Rapaz!
E o Dantas teve claque! E o Dantas teve palmas! E o Dantas agradeceu!
O Dantas é um ciganão!
Não é preciso ir pró Rossio pra se ser pantomineiro, basta ser-se pantomineiro!
Não é preciso disfarçar-se pra se ser salteador, basta escrever como o Dantas! Basta não ter escrúpulos nem morais, nem artísticos, nem humanos! Basta andar com as modas, com as políticas e com as opiniões! Basta usar o tal sorrisinho, basta ser muito delicado, e usar coco e olhos meigos! Basta ser Judas! Basta ser Dantas!
Morra o Dantas, morra! Pim!
terça-feira, 22 de novembro de 2011
Bob Dylan, "The Times They Are A-Changin'"
Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.
Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.
Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.
Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.
Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.
The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.
The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.
Bob Dylan (1964). The Times They Are A-Changin'. Retrieved November 2011, from http://www.lyricsfreak.com/b/bob+dylan/the+times+they+are+a+changin_20021240.html
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Franz Kafka, Excerto de "Carta ao Pai"
perguntaste-me há pouco tempo por que razão digo que tenho medo de ti. Como de costume, não soube o que responder, em parte precisamente devido ao medo que sinto de ti, mas também porque para fundamentar esse medo seria preciso entrar em muitos pormenores, que nem de longe conseguiria ter presentes ao falar. E se tento por este meio responder-te por escrito, o resultado continuará a ser muito incompleto, porque também ao escrever o medo e as suas consequências perturbam a comunicação contigo, e a escala da matéria se situa muito para além da minha memória e do meu entendimento.
Para ti, o problema sempre se apresentou como coisa muito fácil, pelo menos nos momentos em que, comigo ou com outros, indiscriminadamente, tocaste neste assunto. Para ti, as coisas colocavam-se mais ou menos assim: toda a vida trabalhaste muito, sacrificaste tudo pelos teus filhos, especialmente por mim, e por isso eu «vivi à grande», tive toda a liberdade de estudar o que quis, nunca tive preocupações materiais nem de qualquer outra ordem. Tu, por teu lado, não pedias em troca qualquer espécie de gratidão, já conheces «a gratidão dos filhos», pedias apenas alguma compreensão, um sinal de simpatia; em vez disso, o que sempre fiz foi esconder-me de ti, enfiar-me no quarto rodeado de livros e de amigos loucos, de ideias extravagantes. Para ti, nunca falei abertamente contigo, nunca fui ter contigo ao templo, nunca te visitei em Franzensbad, nem nunca tive o sentido da família, nunca me preocupei com a loja ou com os teus assuntos, entreguei-te a fábrica para depois te abandonar, apoiando a minha irmã Ottla nos seus caprichos, não mexo um dedo para te ajudar (nem sequer te arranjo um bilhete para o teatro), mas faço tudo pelos meus amigos. Em resumo, o juízo que de mim fazes não te levará com certeza a acusar-me de qualquer coisa de menos decente ou de mau (com excepção, talvez, dos meus últimos planos de casamento), mas de frieza, estranheza, ingratidão. E lanças-me isso à cara como se a culpa fosse minha, como se eu pudesse mudar tudo automaticamente, enquanto tu não tens sombra de culpa em tudo isto, a não ser eventualmente a de teres sido bom de mais para comigo.
Só reconheço validade a este teu modo de apresentar as coisas na medida em que também eu acredito que não tens qualquer culpa deste nosso estranhamento. Mas também eu sou completamente inocente. Se te pudesse levar a aceitar isto, seria possível, não digo uma nova luz – para isso somos os dois demasiado velhos –, mas uma espécie de pacificação, não o fim das hostilidades, mas uma atenuação das tuas constantes acusações.
(…)
Franz Kafka (2008). Carta ao Pai. (João Barrento, Trad.). Vila Nova de Famalicão:
Quasi Edições. pp. 7-9. Publicado pela primeira vez em 1919.
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
José Luís Peixoto, "Crianças de Fogo"
Ela não sabia que os padeiros estavam em greve. Só soube depois. Ela tinha ido passar a noite com a prima, estavam sozinhas na barraca de madeira, estavam a dormir, quando foram despertadas pelas chamas. Correu para a porta, tentou abri-la, mas estava fechada. Atrás do rugido do fogo, ouviam-se as vozes dos homens na rua. Com queimaduras em todo o corpo, nas mãos, no rosto, ficou em coma durante três meses e, só depois, soube que os padeiros estavam em greve. Foi por isso que os homens vieram queimar a barraca do tio enquanto ele estava a trabalhar na padaria. Foi por isso que trancaram a porta e não a deixaram sair.
Nessa noite, tinha dezassete anos e, no momento em que me conta a sua história, tem vinte e um. É a mais velha, ainda está na associação para continuar a ter oportunidade de estudar em Joanesburgo. Falamos em inglês, mas a sua língua, aquela que a mãe lhe ensinou, é xhosa. Esse é o idioma onde algumas palavras se pronunciam com estalidos da língua. Tenta ensinar a dizer "lagarto" em xhosa, dois estalidos. É muito difícil. Todos nos rimos das tentativas. Ao meu colo está Nkosi, o mais novo, dois anos e oito meses. Nasceu no Zimbabwe e olha para ela com a mesma admiração. Tem o rosto queimado, sem nariz, o lábio de cima desfeito, a pele com uma mistura de tons claros e escuros, cicatrizes grossas negras e manchas claras, dois olhos grandes a verem tudo. Nkosi caiu sobre uma fogueira quando tinha vinte meses. É seropositivo. O seu nome significa: "Obrigado, Deus".
Children of Fire, crianças de fogo. Esta associação não governamental foi fundada na África do Sul por Bronwen Jones quando tomou contacto com Dorah Mokoena, uma menina de três anos, que tinha sofrido queimaduras muito graves aos seis meses de idade, e a quem se preparavam para remover os olhos, pois a sua preservação era demasiado cara e todos acreditavam que morreria em breve. Num país com quilómetros quadrados de barracas iluminadas por candeeiros a petróleo e aquecidas por fogo, que dão origem a mais cinquenta mil incêndios por ano, as vítimas infantis nunca pararam de chegar. Enquanto conversamos, Dorah está por perto. Tem dezassete anos, a boca foi reconstruída com pele recolhida das costas, tem um nariz de borracha, consegue ver claridade e algumas cores, não tem mãos. E sobreviveu.
Bronwen faz um sinal e todas as crianças dirigem-se a mim com um presente. O meu aniversário é na semana seguinte e as crianças fizeram-me um cartão assinado por todos, Happy Birthday from Children of Fire. Rodeiam-me e mostram-me os desenhos que fizeram no cartão, uma página cheia de flores, estrelas e corações. Trocamos beijos, abraços, aperto mãos pequeninas, algumas com falta de dedos, outras sem qualquer dedo. As crianças cantam-me os parabéns. Tiramos uma fotografia juntos.
Antes de chegar, quando ainda só tinha visto as fotografias das crianças na página da associação na internet, pensava que me ia fazer impressão. Nunca tinha estado na presença de tantas pessoas queimadas. Mal atravessei o portão, percebi que não ia ser assim. Estavam todos no pátio e correram na minha direcção, queriam ver-me e queriam brincar. Para lá dos rostos desfigurados e da maior ou menor agilidade, eram crianças. Ao mesmo tempo, percebi a razão das fotografias na página da internet, do documentário e de todas as formas que a associação utiliza para mostrar os seus rostos. Aquelas crianças precisam que o mundo as veja, que o mundo saiba que existem. Mais ainda, o mundo precisa de ver aquelas crianças. É bom para as crianças saberem que o mundo as considera para lá da pele, e é bom para o mundo que seja capaz de considerar os outros para lá da pele.
Feleng tem dez anos e é um rapaz muito engraçado. Quando Bronwen fala de cirurgias, interrompe para descrever aos outros a neve que viu na Suíça e, depois, conta que os médicos lhe tiraram duas costelas e lhas meteram no crânio. Os outro fazem sons e gestos de incómodo e riem-se. Bronwen explica que, assim, o enxerto ósseo crescerá ao mesmo tempo que o crânio. Nunca tinha pensado nisso. Há tanto em que nunca pensei.
Ao passear pela escola, caminho sempre de mão dada com o pequeno Nkosi. Quando chega a hora de ir embora, ele não quer largar-me a mão. Ao despedir-me de todos, ele começa a chorar. Na rua, dou passos, afasto-me e ouço-o a chorar. Já dentro do carro, ainda o ouço a chorar.
José Luís Peixoto (2011). Crianças de Fogo. Visão. Disponível em: http://www.joseluispeixoto.net/2011/09/ (acedido a 11 de Novembro de 2011).
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Sophia de Mello Breyner Andresen, "Coral"
Ia e vinha
e a cada coisa perguntava
que nome tinha.
Sophia de Mello Breyner Andresen (2004). Cem Poemas de Sophia. Lisboa: Visão/JL. p. 32.
quarta-feira, 16 de novembro de 2011
George Orwell, Excerto de "Mil Novecentos e Oitenta e Quatro"
terça-feira, 15 de novembro de 2011
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Yann Arthus Bertrand, "Multidão em Abengourou – Costa do Marfim"
 |
Yann Arthus Bertrand. Crowd in Abengourou. Côte d’Ivoire. Disponível em: http://www.yannarthusbertrand.org/v2/yab_us.htm (acedido a 11 de Novembro de 2011).
|
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
Mia Couto, "O Peso do Vazio"
As próprias letras das canções e os respectivos vídeo-clipes são um culto da ostentação oca e bacoca. Meninos de fatos italianos, cheios de penteados (a mostrar que lhes pesa mais o cabelo que a cabeça) e com dourados a pender dos dedos, dos dedos e do pescoço (a mostrar que precisam apenas de mostrar), meninos que cantam pouco e se repetem até à exaustão, fazem o culto deste vazio triste...
Durante anos, o sistema bancário esteve vendendo vazios. Durante esse tempo a arte esteve no empacotar esse vácuo. Esse cultivo da aparência em substituição da substância invadiu as nossas sociedades, no Norte e no Sul do planeta. Esse fascínio pelo brilho exterior estende-se a todos os domínios. Não interessa tanto quem sejas. Interessa o que vestes e como te vendes. Não interessa o que realmente sabes fazer. Interessa a arte de elaborar CVs, de acumular cursos e de te saberes colocar na montra. Não interessa o que pensas. Interessa como embrulhas o pensamento (ou a sua ausência) num bonito invólucro de palavras. Não interessa, no caso de seres governante, como governas e como produzes riqueza para a sociedade. Interessa a pompa e a circunstância. Em suma, o que pesa é o vazio.
Nas artes, o espectáculo tomou conta dessa generalizada ausência de conteúdo. Pouco importa a voz da cantora. Quem escuta a desafinação se ela rebola os quadris com sedução de gata? Quem disse que uma boa cantora tem que cantar? Numa nação em que pouco dinheiro pode salvar vidas, patrocínios chorudos foram aplicados em programas mediáticos de procura do rosto mais bonito, do corpo mais bonito.
As próprias letras das canções e os respectivos vídeo-clipes são um culto da ostentação oca e bacoca. Meninos de fatos italianos, cheios de penteados (a mostrar que lhes pesa mais o cabelo que a cabeça) e com dourados a pender dos dedos, dos dedos e do pescoço (a mostrar que precisam apenas de mostrar), meninos que cantam pouco e se repetem até à exaustão, fazem o culto deste vazio triste em que o que brilha é falso e o que é verdadeiro é mentira. Que valores se veiculam? O carro de luxo (dado pelo papá), a vida fútil, a riqueza fácil. Ai, pátria amada quanto te amam de verdade? Ai, África odiado quanto desse ódio te foi dedicado pelos próprios africanos? Quanto teremos que dar razão ao grande escritor Chinua Achebe quando disse, na carta que escreveu a Agostinho Neto: “O riso sinistro dos reis idiotas de África que, da varanda dos seus palácios de ouro, contemplam a chacina dos seus próprios povos?”
Essa substituição do conteúdo pobre pela forma e pelo aparato pobre faz parte da nossa cultura de empreendedores instantâneos. Há que criar uma empresa? O melhor é que ela não produza nada. Produzir é uma grande chatice, custa tempo e dá muito trabalho. O que está é o lobby, a compra e venda de influências, é ser empresário de sucesso sobretudo porque esse sucesso vem de ser filho de alguém. Para a empresa ser de “peso” há que se gastar tudo na fachada, no cartão de visita, na sala de recepção.
Toda esta longa introdução vem a propósito de um outro jogo de aparências. O acto de pensar foi dispensado pelo uso mecânico de uma linguagem de moda. Já falei de workshops como um espécie de idioma que preenche e legitima a proliferação de seminários, workshops e conferências que pululam de forma tão improdutiva pelo mundo inteiro. Existem termos de moda como “o desenvolvimento sustentável”. Um desses termos mágicos que dispensa qualquer tipo de raciocínio e que cauciona qualquer juízo moral ou proposta política é a expressão “comunidade local”.
Mas aqui surge uma outra operação: por artes inexplicáveis as chamadas “comunidades locais” são entendidas como agrupamentos puros, inocentes e portadores de valores sagrados. As comunidades rejeitam? Então, nada se faz. As comunidades queixam-se? É preciso compensá-las, de imediato, sem necessidade de produzir prova. As comunidades surgem como entidades fora deste mundo e olhadas como um bálsamo purificador por um certo paternalismo das chamadas potências desenvolvidas.
As comunidades estão acima de qualquer suspeita, são incorruptíveis e têm uma visão infalível sobre os destinos da humanidade. É assim que pensam uns tantos missionários dessa nova religião que se chama “desenvolvimento”. Uma tropa de associações cívicas, organizações não governamentais servem-se desse conceito santificado e santificante. Essa entidade pura não existe. Felizmente. O que há são entidades humanas, com os defeitos e as virtudes de todas as entidades compostas por pessoas reais.
O esforço de idealização promovido quer pelos profetas do desenvolvimento quer pelos defensores dos fracos não confere com a realidade que é mais complexa e mundana. O bom selvagem defendido por Rosseau nunca foi nem “bom”, nem “selvagem”. Foi simplesmente pessoa.
Mia Couto (12.02.2011). O peso do vazio. O País online. Disponível em
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
Jean-Claude Carrière, Excerto da Introdução de "Tertúlia de Mentirosos"
Como as minhocas que, ao que se diz, fecundam a terra que atravessam cegamente, as histórias passam de boca em boca e dizem, há já muito, o que nada mais sabe dizer. Algumas giram e enroscam-se no seio de um mesmo povo, outras, como feitas de uma matéria subtil, perfuram as muralhas invisíveis que nos separam uns dos outros, ignoram o tempo e o espaço e, simplesmente, perpetuam-se. (…)
Se o conto, prazer antigo, universal, que requeremos desde a infância, conserva esta tenacidade é talvez porque encerra uma virtude, um singular princípio de permanência. A sua força primordial é evidentemente a de nos transportar, com umas quantas palavras, para outro mundo, um mundo em que imaginamos as coisas em vez de as sofrer, um mundo onde dominamos o espaço e o tempo, onde pomos em movimento personagens impossíveis, onde povoamos como nos apetece outros planetas, onde insinuamos criaturas sob as ervas dos pauis, entre as raízes dos carvalhos, onde pendem salsichas das árvores, onde os rios sobem para a nascente, onde aves tagarelas raptam crianças, onde defuntos inquietos vêm em silêncio remediar um esquecimento, um mundo sem limites e sem regras onde organizamos à nossa maneira os encontros, os combates, as paixões.
(…)
Neste sentido, é por meio do «era uma vez» que a superação do mundo, isto é, a metafísica, se introduz na infância de cada indivíduo e talvez também na dos povos, muitas vezes ao ponto de aí incrustar uma raiz tão forte que as nossas invenções humanas serão para nós, durante toda a vida, uma realidade indiscutível. Após o deslumbramento, o arrebatamento, a história que nos contaram fica na própria base das nossas crenças.
(…)
Perguntei um dia ao neurologista Oliver Sacks o que é a seu ver um homem normal. (…) Hesitou e depois respondeu-me que um homem normal será talvez aquele que é capaz de contar a sua própria história. Sabe de onde vem (tem uma origem, um passado, uma memória em ordem), sabe onde está (a sua identidade) e crê saber para onde vai (tem projectos e a morte no fim). Situa-se, portanto, no movimento de uma narrativa, é uma história, pode dizer-se.
Se esta relação indivíduo-história se rompe por qualquer razão fisiológica ou mental, o relato quebra-se, a história perde-se, a pessoa é projectada para fora do curso do tempo. Já não sabe nada, nem quem é nem o que deve fazer. Agarra-se a simulacros da existência. Ao olhar do médico, o indivíduo surge então à deriva. Se bem que os seus mecanismos corporais funcionem, perdeu-se no caminho, já não existe.
O que se diz do indivíduo poderá também dizer-se de uma sociedade? Há quem pense que sim. Deixarem de poder contar-se, identificar-se, colocar-se normalmente no correr do tempo poderia levar povos inteiros a apagar-se, separados uns dos outros e sobretudo de si próprios por falta de uma memória constantemente reavivada. Assim, por exemplo, os povos africanos, sul-americanos, estão hoje em risco de silêncio. Expostos à censura número um, que é comercial, e que avança sob o estandarte da «livre concorrência» (a Califórnia e o Mali tem a liberdade de rivalizar, por exemplo, no domínio da produção televisiva: o que significa isso verdadeiramente? Não será uma vez mais a raposa à solta no galinheiro livre?), numerosos são os contadores já amordaçados. Purificação estética e étnica sempre foram irmãs gémeas. Vem hoje juntar-se-lhes o pretenso liberalismo, que chega para muito simplesmente dizer: calem-se.
Jean-Claude Carrière (2000). Tertúlia de Mentirosos: Contos filosóficos do mundo inteiro. (Telma Costa, Trad.). Lisboa: Caminho. pp. 5-9.
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Raymond Carver, "Fear"
Fear of seeing a police car pull into the drive.
Fear of falling asleep at night.
Fear of not falling asleep.
Fear of the past rising up.
Fear of the present taking flight.
Fear of the telephone that rings in the dead of night.
Fear of electrical storms.
Fear of the cleaning woman who has a spot on her cheek!
Fear of dogs I've been told won't bite.
Fear of anxiety!
Fear of having to identify the body of a dead friend.
Fear of running out of money.
Fear of having too much, though people will not believe this.
Fear of psychological profiles.
Fear of being late and fear of arriving before anyone else.
Fear of my children's handwriting on envelopes.
Fear they'll die before I do, and I'll feel guilty.
Fear of having to live with my mother in her old age, and mine.
Fear of confusion.
Fear this day will end on an unhappy note.
Fear of waking up to find you gone.
Fear of not loving and fear of not loving enough.
Fear that what I love will prove lethal to those I love.
Fear of death.
Fear of living too long.
Fear of death.
I've said that.
Fear of falling asleep at night.
Fear of not falling asleep.
Fear of the past rising up.
Fear of the present taking flight.
Fear of the telephone that rings in the dead of night.
Fear of electrical storms.
Fear of the cleaning woman who has a spot on her cheek!
Fear of dogs I've been told won't bite.
Fear of anxiety!
Fear of having to identify the body of a dead friend.
Fear of running out of money.
Fear of having too much, though people will not believe this.
Fear of psychological profiles.
Fear of being late and fear of arriving before anyone else.
Fear of my children's handwriting on envelopes.
Fear they'll die before I do, and I'll feel guilty.
Fear of having to live with my mother in her old age, and mine.
Fear of confusion.
Fear this day will end on an unhappy note.
Fear of waking up to find you gone.
Fear of not loving and fear of not loving enough.
Fear that what I love will prove lethal to those I love.
Fear of death.
Fear of living too long.
Fear of death.
I've said that.
Raymond Carver (2000). All of Us: The Collected Poems.
New York: Vintage Books. Retrieved on October 12th, 2011, from http://www.randomhouse.com/boldtype/1098/carver/poem.html.
Duas entrevistas com raymond Carver: http://www.iwu.edu/~jplath/
Uma entrevista em audio: http://www.wiredforbooks.org/
Vídeo de Carver: http://www.carversite.com/
segunda-feira, 7 de novembro de 2011
Ian McEwan, Excerto de "Mother Tongue"
I don't write like my mother, but for many years I spoke like her, and her particular, timorous relationship with language has shaped my own. There are people who move confidently within their own horizons of speech; whether it is Cockney, Estuary, RP or Valley Girl, they stride with the unselfconscious ease of a landowner on his own turf. My mother was never like that. She never owned the language she spoke. Her displacement within the intricacies of English class, and the uncertainty that went with it, taught her to regard language as something that might go off in her face, like a letter bomb. A word bomb. I've inherited her wariness, or more accurately, I learned it as a child. I used to think I would have to spend a lifetime shaking it off. Now I know that's impossible, and unnecessary, and that you have to work with what you've got.
"It's a lot of cars today, id'n it?" I am driving Rose into the Chilterns to a nature reserve where we will stroll about and share our sandwiches and a flask of tea. It is 1994, still many years to go before the first signs of the vascular dementia that is currently emptying her mind. Her little remarks, both timid and intimate, do not necessarily require a response
"Look at all them cows." And then later, "Look at them cows and that black one. He looks daft, dud'n he?" "Yes, he does." When I was 18, on one of my infrequent visits home, resolving yet again to be less surly, less distant, repeated conversations of this kind would edge me towards silent despair, or irritation, and eventually to a state of such intense mental suffocation, that I would sometimes make excuses and cut my visit short.
"See them sheep up there. It's funny that they don't just fall off the hill, dud'n it?" Perhaps it's a lack in me, a dwindling of the youthful fire, or perhaps it's a genuine spread of tolerance, but now I understand her to be saying simply that she is very happy for us to be out together seeing the same things. The content is irrelevant. The business is sharing.
(…)
It is spring time, 2001, and I collect Rose from the nursing home to take her out to lunch. Sometimes she knows exactly who I am, and at others she simply knows that I am someone she knows well. It doesn't seem to bother her too much. In the restaurant she returns to her major theme; she has been down to the cottage in Ash to see her parents. Her father was looking so unwell. She's worried about him. Her mother is going to come up to see her in the nursing home, but doesn't have the bus fare and we should send it to her. There is no purpose in telling Rose that her father died in 1951, and her mother in 1967. It never makes any difference. Sometimes, she packs a plastic carrier bag of goodies - a pint of milk, a loaf, a bar of chocolate and some knickers from the laundry basket. She will put on her coat and announce that she is going to Ash, to Smith's cottages, to the home where she grew up and where her mother is waiting for her. This homecoming may seem like a preparation for death, but she is in earnest about the details, and lately, she has been convinced that she has already been, and must soon go again. Over lunch, she says that what she would really like is for her mother to come and see her room at the nursing home, and see for herself that her daughter is all right.
Afterwards, I drive her round the streets of suburban west London. This is what she wants, to sit and look and point things out as we cruise from Northolt to North Harrow to Greenford.
"Oo, I really love doing this," she says. "I mean, look at me, riding about like Lady Muck!" As we go along the A40 in a heavy rainstorm, past Northolt airport, she falls asleep. She was always so bird-like and nervous that sleeping in the day would once have been unthinkable. She was a worrier, an insomniac. Soon all her memories will be gone. Even the jumbled ones - her mother, the house in Ash with the plum tree in the garden. It's a creeping death. Soon she won't know me or Margy or Roy. As the dementia empties her memory, it will begin to rob her of speech. Already there are simple nouns that elude her. The nouns will go, and then the verbs. And after her speech, her co-ordination, and the whole motor system. I must hang on to the things she says, the little turns, the phrases, for soon there will be no more. No more of the mother tongue I've spent most of my life unlearning.
She was animated and cheerful over lunch, but for me it's been another one of those sad afternoons. Each time I come, a little bit more of her has gone. But there's one small thing I'm grateful for. As she sleeps and the wipers toil to clear the windscreen, I can't help thinking of what she said - riding about like Lady Muck. I haven't heard that in years. Lady Muck. Where there's muck there's brass. It must have been in use in the 1930s, or 1940s. I'll use it. It's right for the novel I'm finishing now. I'll have it. Then I'll always remember that she said it. I have a character just coming to life who can use her words. So thank you, Rose, for that - and all the rest.
Ian McEwan (2001). Mother Tongue. Retrieved on October 5th, 2011, from http://www.ianmcewan.com/bib/articles/mother-tongue.html. First published in The Guardian on 13 October 2001
Leia o texto integral e saiba mais sobre Ian McEwan
em http://www.ianmcewan.com/bib/
sexta-feira, 4 de novembro de 2011
Salvador Dalí, "A persistência da memória,"
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
António Lobo Antunes, Excerto de "Saudades da Vida"
Uma ocasião uma jornalista perguntou a Vinicius de Morais se tinha medo da morte.
O poeta respondeu com um sorriso:
- Não, minha filha. Tenho saudades da vida.
De tempos a tempos esta frase de Vinicius regressa-me à ideia. Penso: de que terei saudades, eu? Maça-me morrer porque se fica defunto muito tempo. Estou certo que o meu pai anda chateadíssimo no cemitério, sem livros, sem música, sem oportunidades para ser desagradável. O meu avô, tão diferente do filho, já deve ter feito montes de amigos por lá, todos a comerem percebes à volta de uma mesa grande. E o meu tio Eloy joga às cartas com os outros, a sorrir de satisfação quando lhe saem naipes bons. Costumava inchar na cadeira, a olhar para eles, repetindo
- Muito bem, senhores oficiais
da mesma maneira que, se as coisas corriam mal, se lamentava
- Há muitos anos que sou beleguim e nunca vi uma coisa assim
e vejo-o daqui, sem uma prega, elegantíssimo. A minha tia Madalena lê livros grossos, a minha tia Bia ensina piano e eu sinto medo de não haver papel, nem caneta, nem amigos, nem mulheres. Mas, voltando a Vinicius de Morais, de que terei saudades? De acordar de manhã, no verão, rodeado de cheiros que zumbem? Do mar em Vila Praia de Âncora? Dos cães ferrugentos de Colares e dos seus olhos lamentosos? Da Beira Alta? Da Beira Alta sem dúvida, e do juiz que se gabava de parar o pensamento. Dos gatos que ao fecharem os olhos cessam de existir e se transformam em almofadas de sofá? Da minha filha Isabel ao levá-la a um museu para lhe encher de amor pela beleza os tenros neurónios:
- Estás a gostar?
- Acho um bocado aborrecente
e não tive coragem de dizer que também acho os museus um bocado aborrecentes. Não ligava muito aos quadros, ou antes não ligava um pito aos quadros mas, na época de eu criança, havia escarradores cromados, a cada dez telas, que me interessavam muitíssimo. O problema é que nunca soube cuspir em condições. Ainda hoje não sei cuspir decentemente e, não estou a brincar, envergonho-me disso. No transporte para o liceu sempre admirei os cavalheiros que tiravam um lenço muito bem dobrado da algibeira, o abriam numa lentidão preciosa, puxavam a alma dos pulmões, depositavam-na no lenço num gorgolejo de ralo, competente, profundo, examinavam a alma com satisfação, tornavam a dobrar o lenço e faziam o resto do trajecto com ela nas calças. Talvez seja por isso que nem lenço uso: quando me acho fungoso luto comigo mesmo para não limpar o nariz na manga: a maior parte das vezes consigo. Vou ter saudades daqueles que se assoam com dignidade e estrondo e dos outros, mais comuns, detentores de um poder de síntese que, desgraçadamente, me falta. Passa uma rapariga e eles, logo
- És muita boa
numa concisão admirável, a acotevelarem um sócio distraído
- Viste?
O sócio já só apanha a rapariga ao longe mas concorda por solidariedade
- Chega o verão e descascam-se logo
e o do poder de síntese remata
- Todas umas putas
que é um ponto final que não admite acrescentos, ei-las catalogadas em definitivo, de modo que se passa aos méritos da cerveja preta que, além de acabar com a sede, é óptima para tirar nódoas, seja na camisa, seja no estômago
- Até limpam as úlceras
limpam as úlceras e amortecem o presunto:
- Se as pessoas mamassem uma preta a meio da tarde ninguém adoecia.
Segue-se a inspecção da sola do sapato
- Olha-me para a porcaria deste buraco aqui
e um discurso acerca das fragilidades e misérias do cabedal. Terei saudades disto? Do senhor da mercearia ao pé de mim vou ter de certeza. Está sempre sozinho na loja, atrás do balcão, educadíssimo. Se lhe comprar um maço de cigarros e disser
- Obrigado
responde de imediato
- Obrigado somos nós (…)
António Lobo Antunes, "Saudades da Vida". In Visão 22.12.2010
quarta-feira, 2 de novembro de 2011
Orla Barry
I remember memory as if it were a memory.
I remember standing outside myself, outside the world.
I remember my brain continually obliterating the words to describe existence.
I remember standing outside myself, outside the world.
I remember my brain continually obliterating the words to describe existence.
I remember thinking that thinking is a chameleon,
changing with the conditions that go on around thought.
changing with the conditions that go on around thought.
I remember life without hand cream.
I remember being too full to remember...
I remember recounting,
I remember, remembering without images,
I remember rehearsing memory through voice.
I remember speaking a poetic language.
A language that is removed from speech,
one that does not allow for communication
but for interpretation and reinterpretation.
I remember recounting,
I remember, remembering without images,
I remember rehearsing memory through voice.
I remember speaking a poetic language.
A language that is removed from speech,
one that does not allow for communication
but for interpretation and reinterpretation.
I remember the colour of the air
and the sun burning through my clothes.
I remember the brain sunburn.
and the sun burning through my clothes.
I remember the brain sunburn.
I remember looking for a place where I could extend my thoughts,
but they hung in the air around me.
I remember words leaving my mouth without me.
but they hung in the air around me.
I remember words leaving my mouth without me.
I remember someone with a fairground style enlightenment.
I remember them saying:
'What does a mirror look like when it is not working?'
I remember them saying:
'What does a mirror look like when it is not working?'
I remember when presence started to lead to absence.
I remember overdose cities, where people really thought input always led to output.
I remember overdose cities, where people really thought input always led to output.
I remember the cities stinking air, as warm and smelly as the air from a tire.
I remember not being able to take a joke to the point that it might have gotten funny.
I remember forgetting how to joke.
I remember the blankness.
I remember suspended meaning.
I remember un-framing memory and every image I ever had collapsing into the dark.
I remember not being able to take a joke to the point that it might have gotten funny.
I remember forgetting how to joke.
I remember the blankness.
I remember suspended meaning.
I remember un-framing memory and every image I ever had collapsing into the dark.
I remember loosing the image of the recently departed.
I remember ringing the wrong doorbell and being cornered by the unknown.
I remember a permanent compression of energy.
I remember a dream that to get married you needed five rings.
I remember someone asking me: 'Can you do something you can't say?'
I remember ringing the wrong doorbell and being cornered by the unknown.
I remember a permanent compression of energy.
I remember a dream that to get married you needed five rings.
I remember someone asking me: 'Can you do something you can't say?'
Orla Barry (voz, texto e imagem de Orla Barry), Five Rings, exposição de Rui Chafes & Orla Barry,
Museu Colecção Berardo (Lisboa). 2 de Maio a 21 de Agosto de 2011.
Informação sobre a exposição: http://www.museuberardo.pt/
Vídeo de uma das “instalações” da exposição Five Rings (escultura de Rui Chafes; texto e voz de Orla Barry
Subscrever:
Mensagens (Atom)